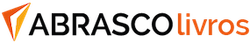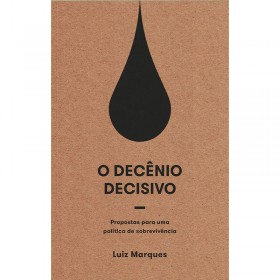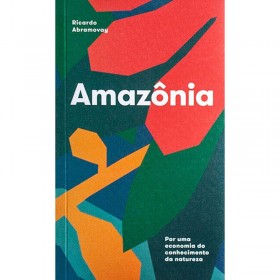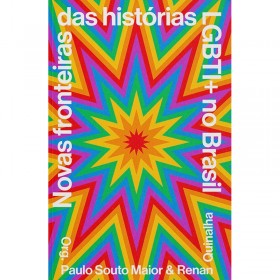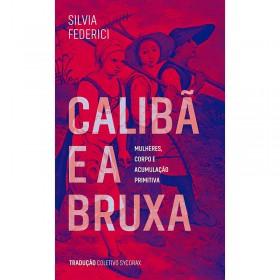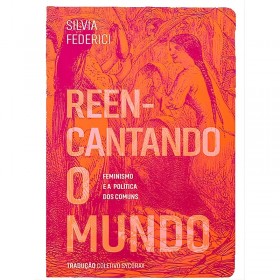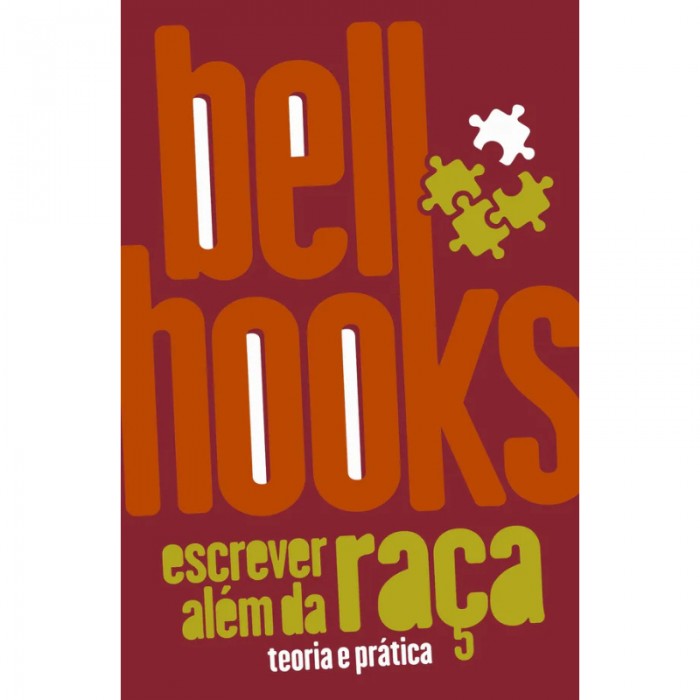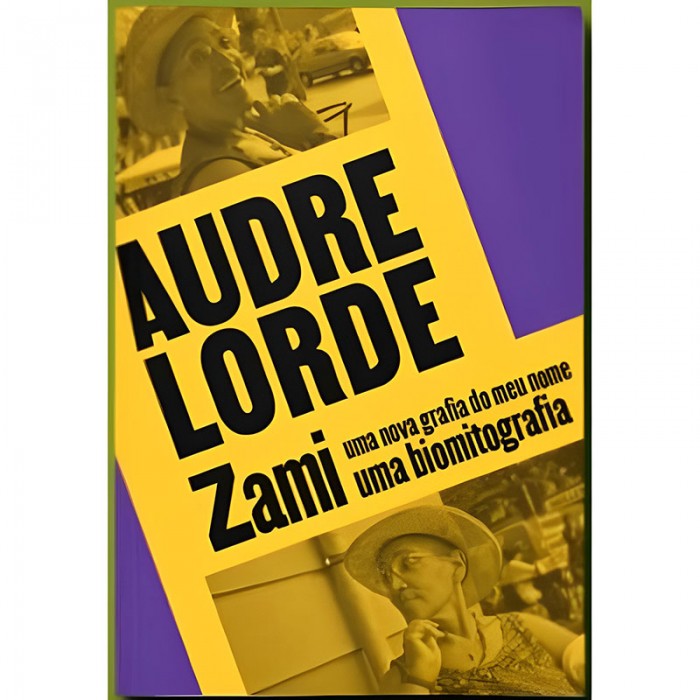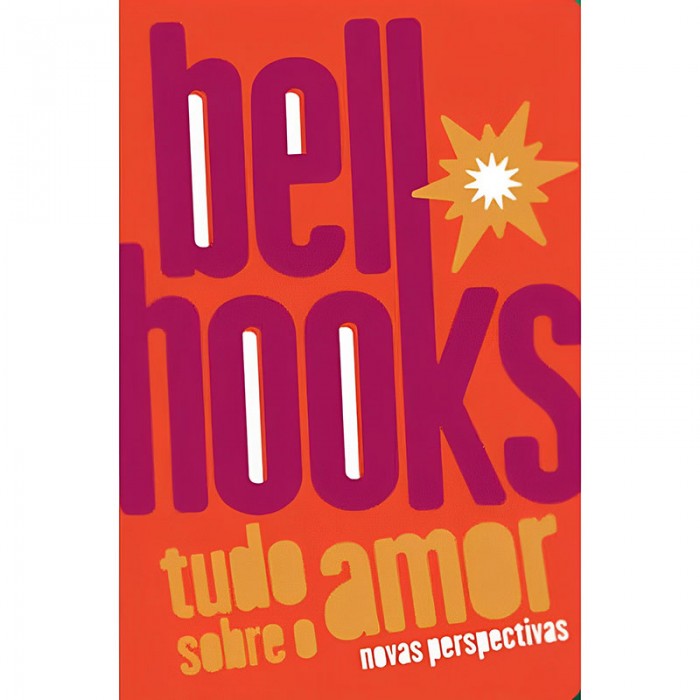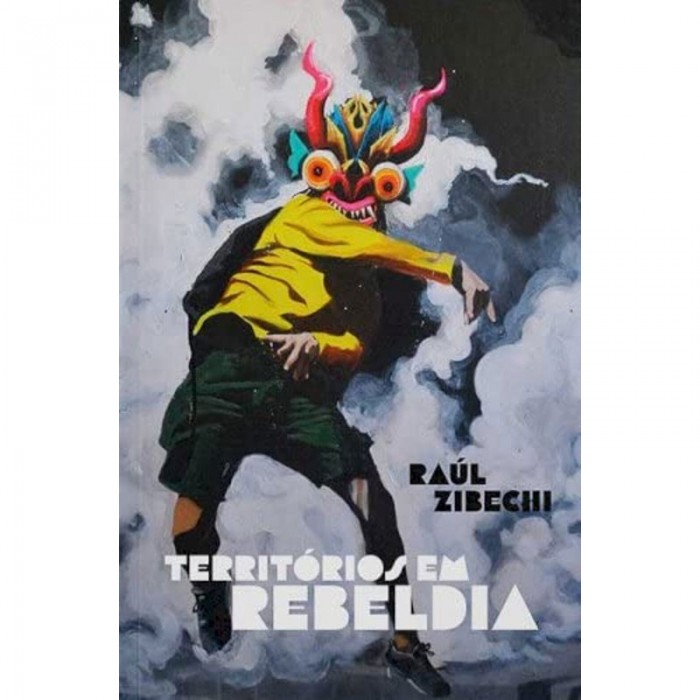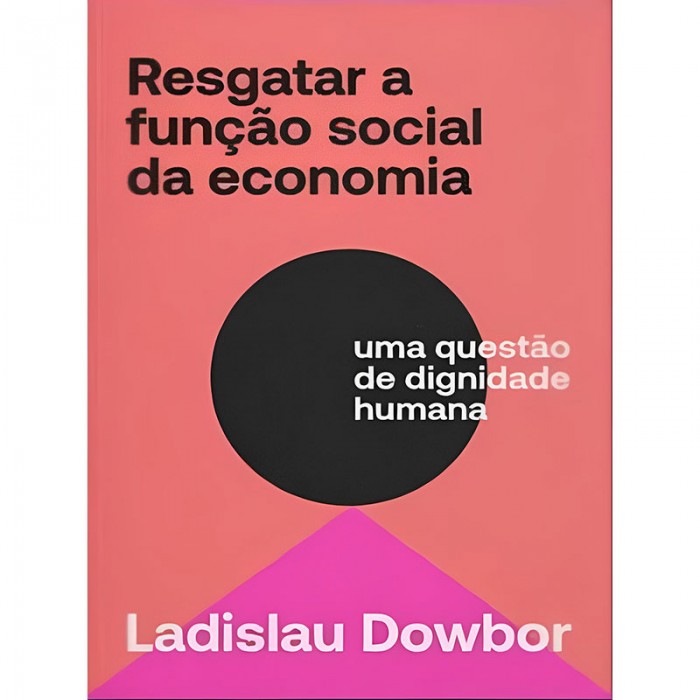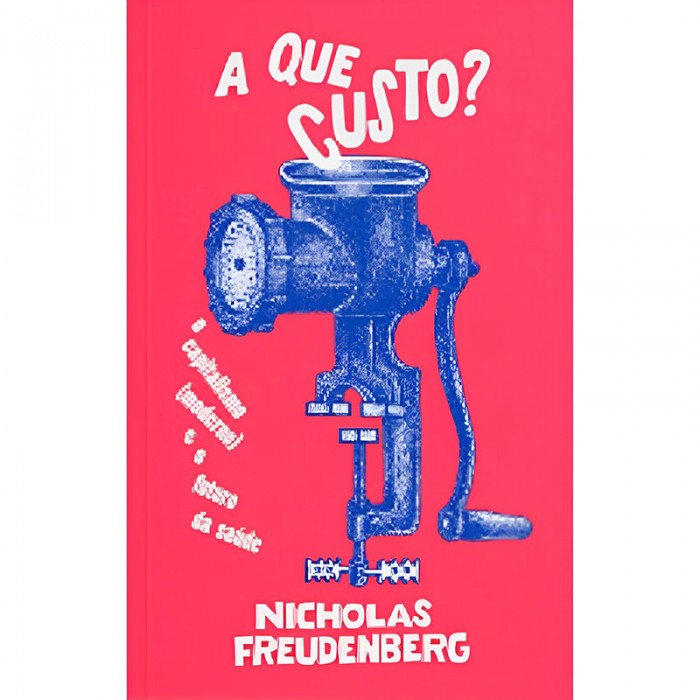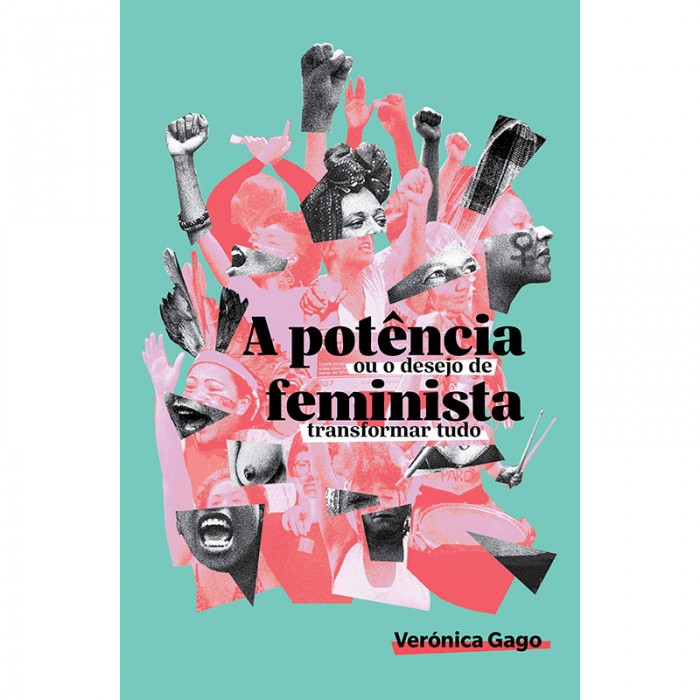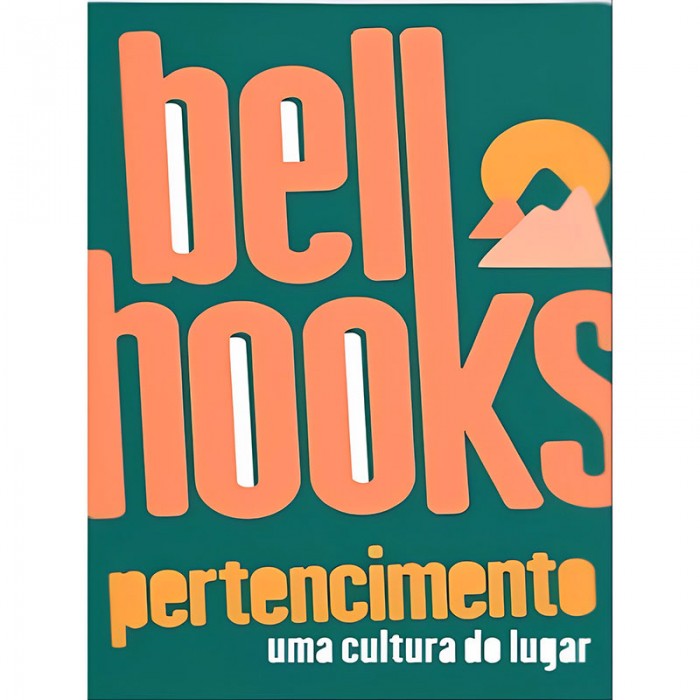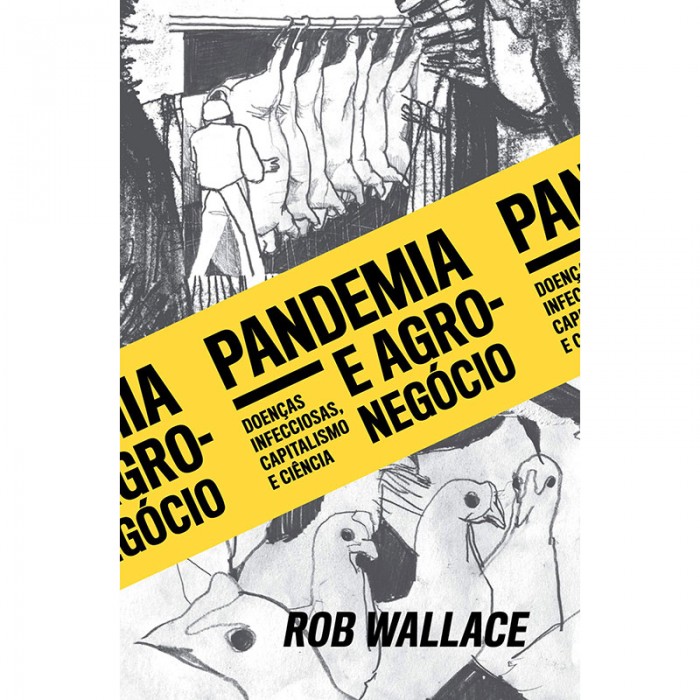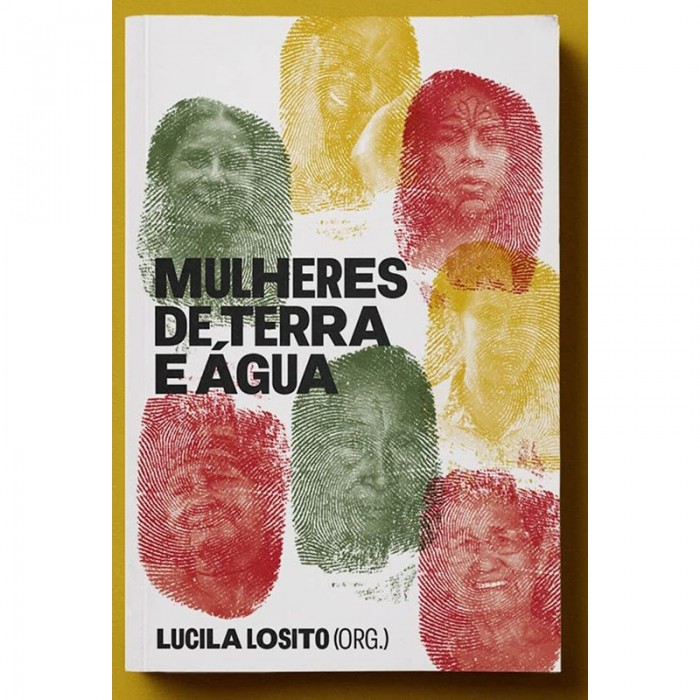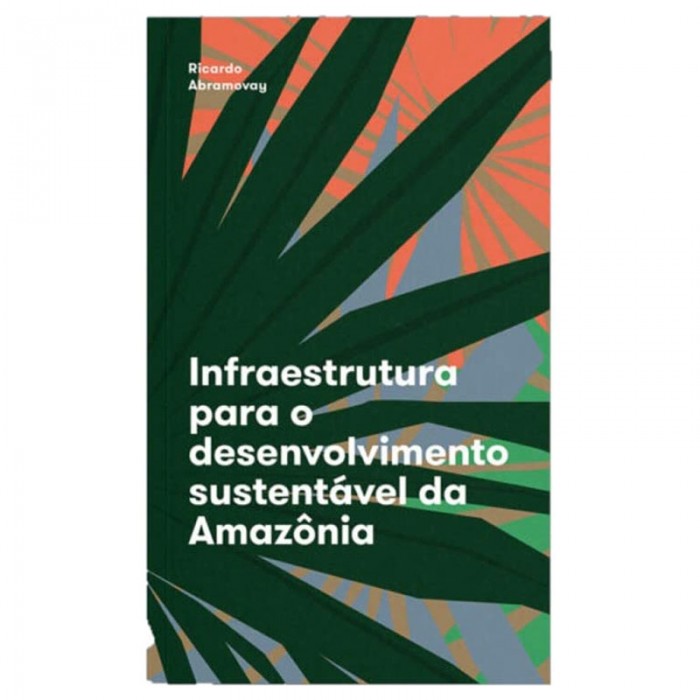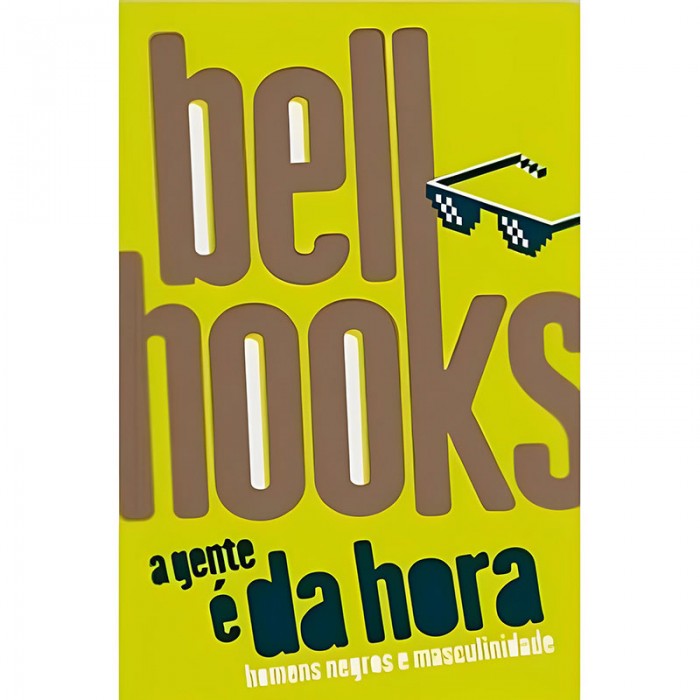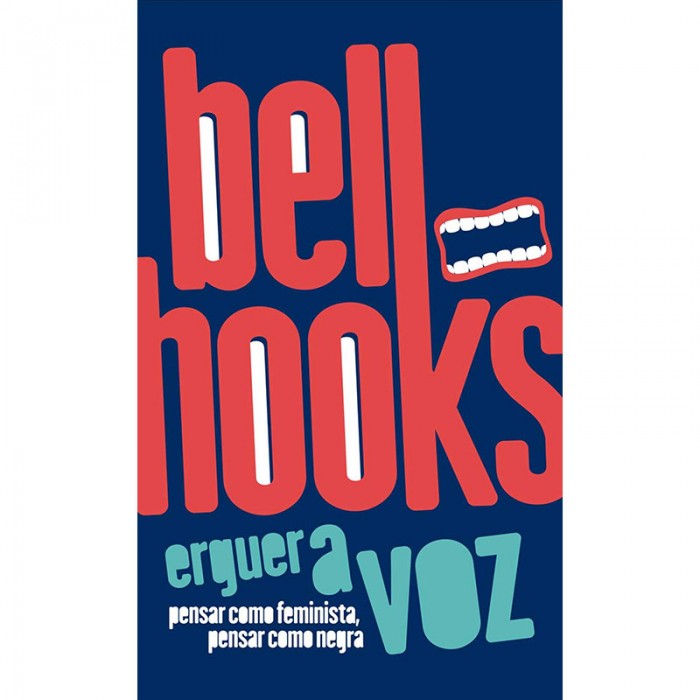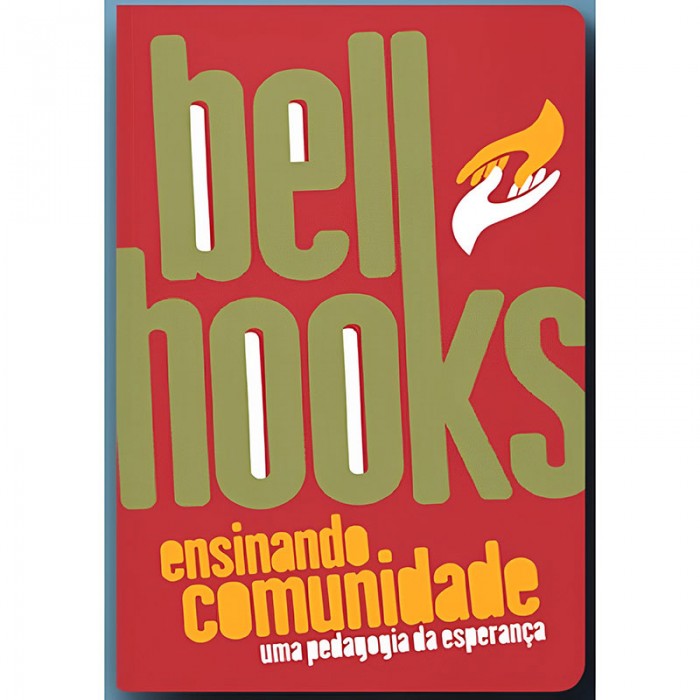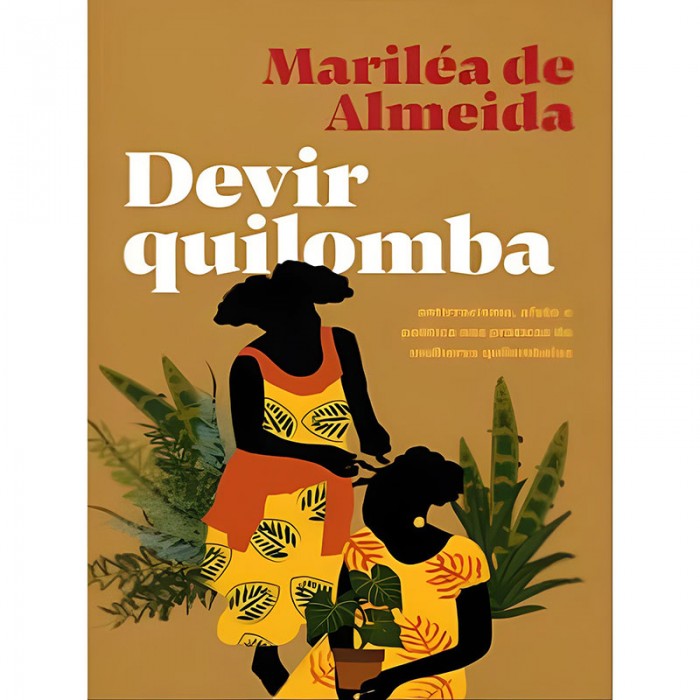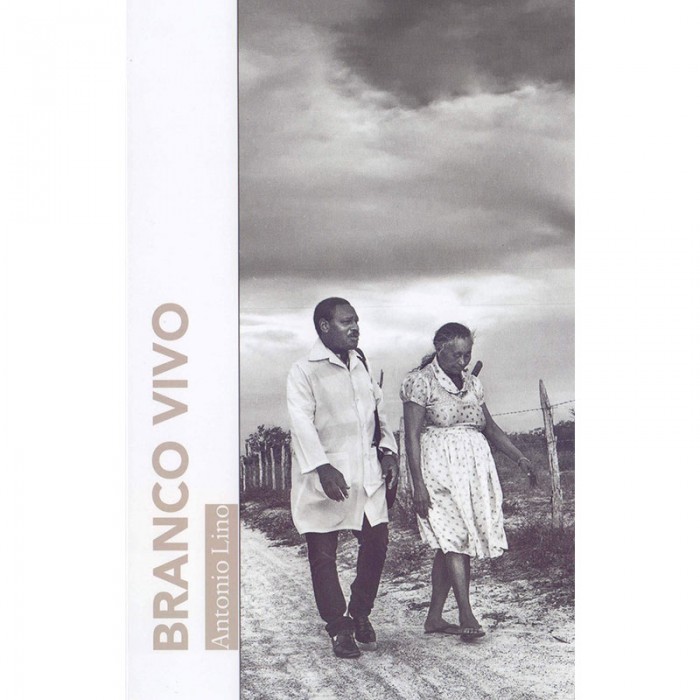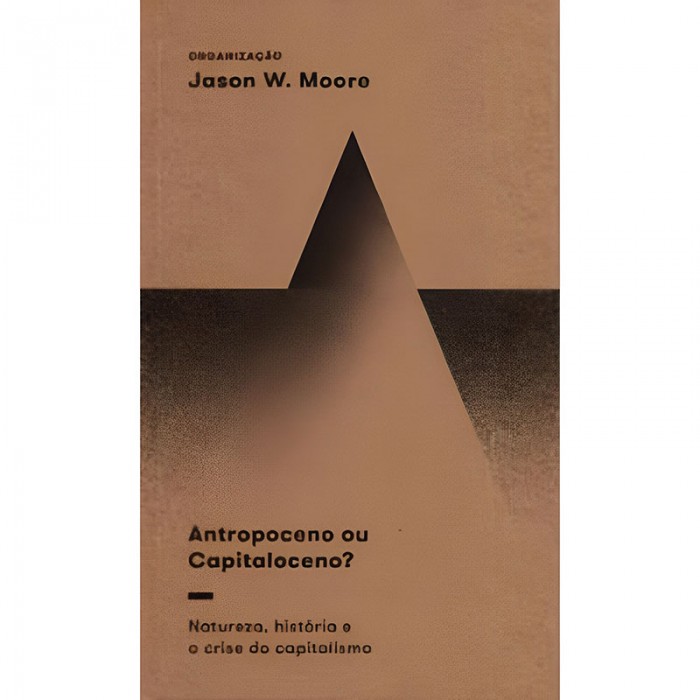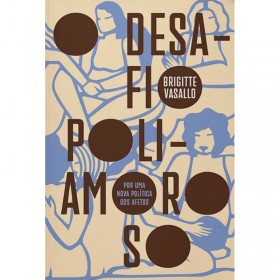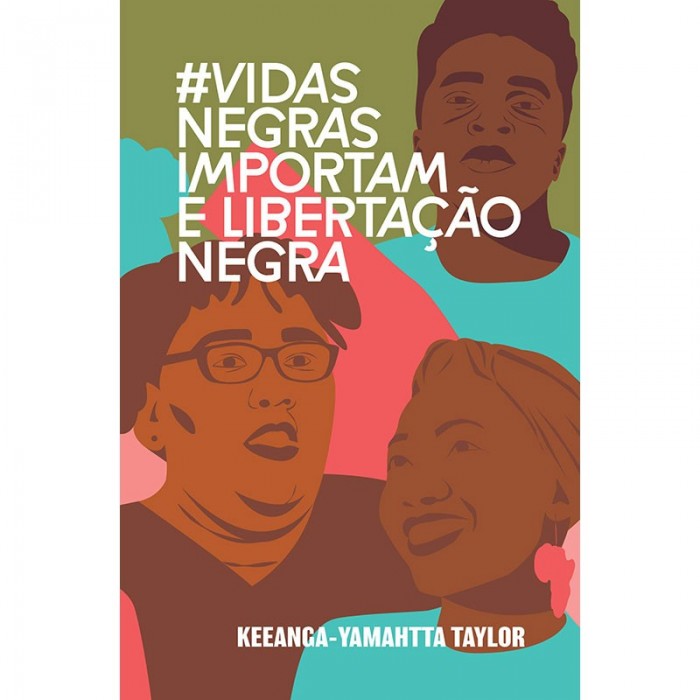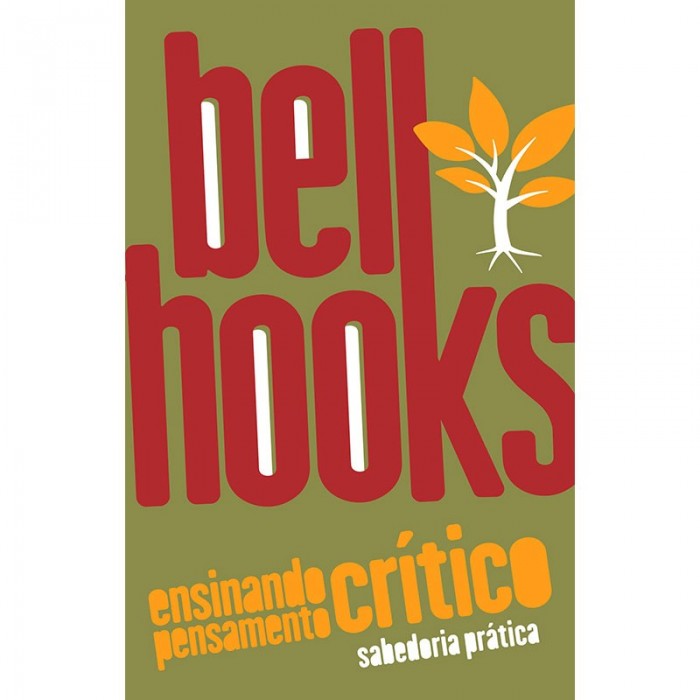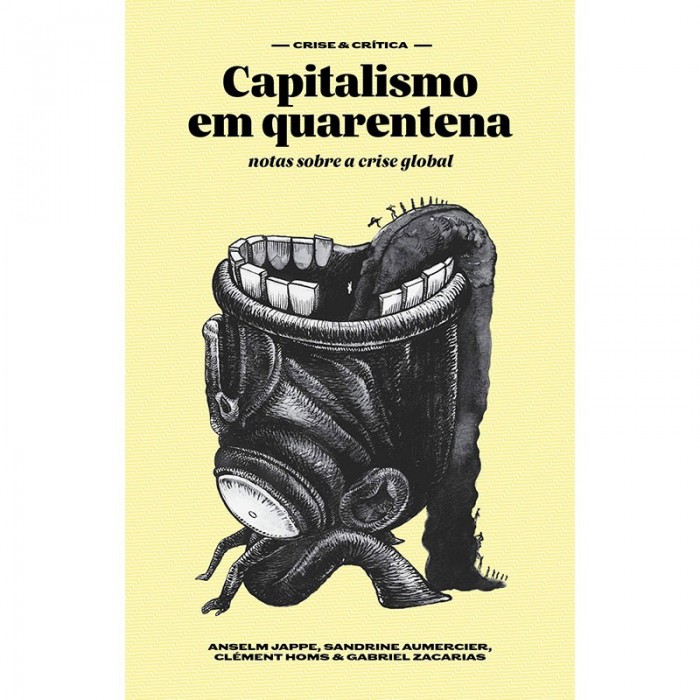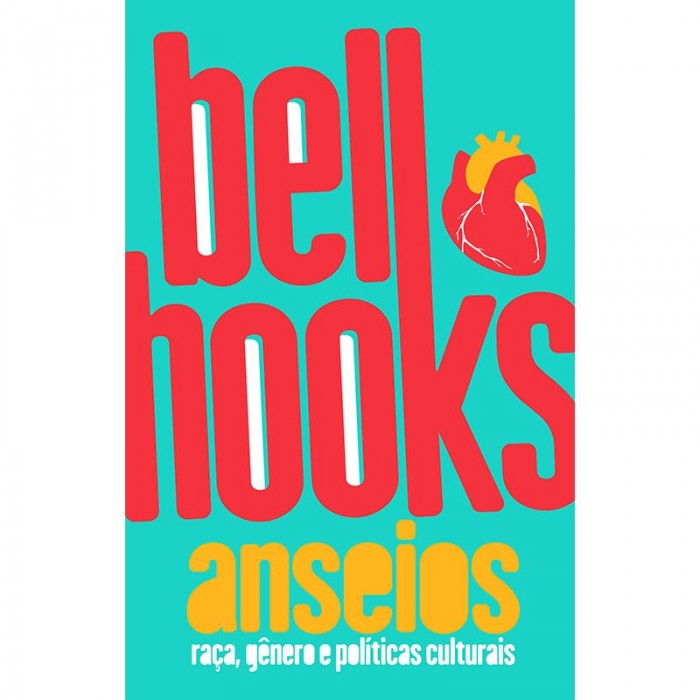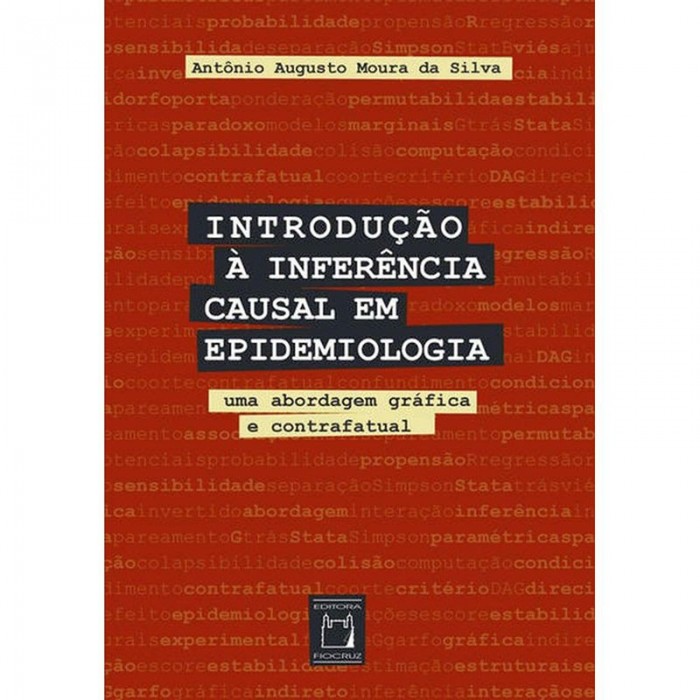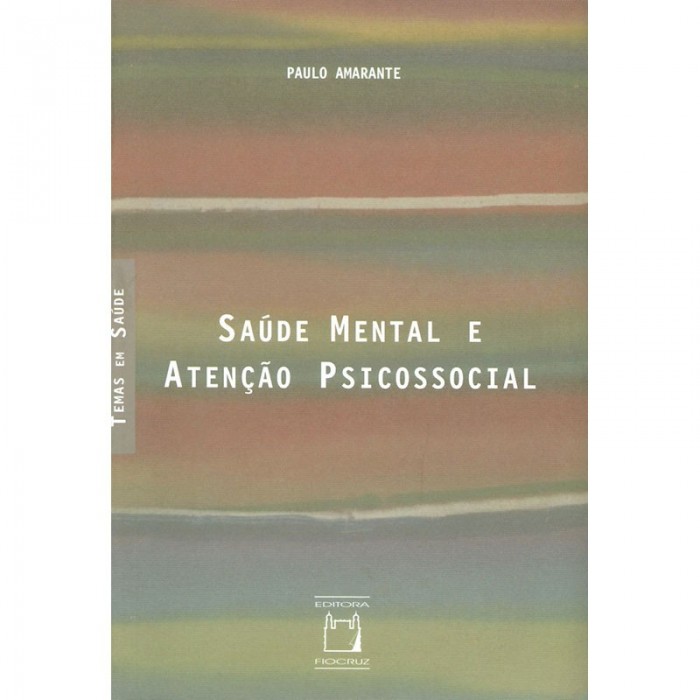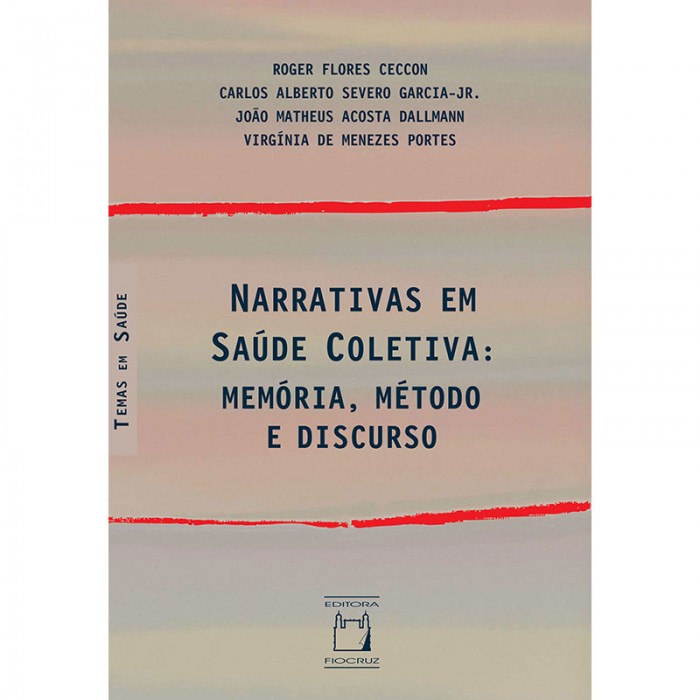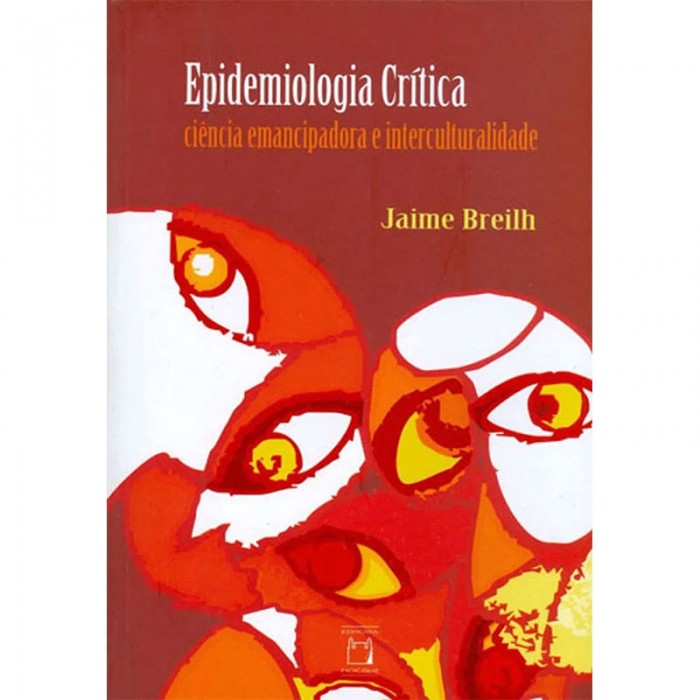O decênio decisivo reúne, com grande rigor científico, uma quantidade imensa de dados que estão na fronteira do conhecimento acerca dos impactos das mudanças climáticas sobre a vida na Terra, apontando o futuro excruciante que virá caso não rompamos com os pilares do capitalismo contemporâneo, e elencando as possibilidades de ação imediata para evitar que a catástrofe seja ainda maior. Da leitura, depreende-se que o momento presente é o mais crucial de nossa história como espécie, pois é agora que decidiremos, coletivamente, as chances de sobrevivência do projeto humano.
O atual modelo de desenvolvimento, produtivista-consumista, levará muito provavelmente a humanidade à autodestruição. Precisamos denunciar o processo de degradação em curso e construir uma outra forma de organização social e econômica que nos permita viver e conviver harmoniosamente com a natureza, da qual fazemos parte. A Amazônia está no centro do debate sobre a crise ambiental, não apenas para o nosso país, mas para todo o mundo. O estudo aqui publicado, apoiado nas pesquisas mais recentes sobre a região, oferece dados e análises preciosos para interrompermos a “economia de destruição da natureza” e possibilitarmos a emergência de uma “economia do conhecimento da natureza”. O estudo mostra, entre outras coisas, que, até 1960, apenas 1% do território da Amazônia havia sido desmatado, e hoje são 20%. Entre 2004 e 2012, houve significativa redução do desmatamento, mas, depois, voltou a crescer. Em 2016, o Brasil foi o sétimo emissor mundial de gases de efeito estufa: deste total, 51% foram causados pelo desmatamento. Nos últimos meses, tem havido um verdadeiro descontrole por parte do governo em favor de um processo que corre o risco de levar à savanização e desertificação da Amazônia. (...)
Este livro foi preparado a partir de experiências político-educativas que atuam para desestabilizar relações de poder, despertar questionamentos, inspirar a organização coletiva, promover o diálogo-luta e o conhecimento crítico compartilhado. Nossa ferramenta de subversão é a Rede Emancipa de Educação Popular. Mas não só. Viemos alimentar a tensão criativa entre a educação popular e a universidade. Este é um livro-síntese, um objeto político que agrega diversas celebrações. Com ele, comemoramos os quinze anos da Rede Emancipa, os cinco anos da Universidade Emancipa e os cem anos de Paulo Freire, em um único volume. É uma coletânea polifônica, construída por 65 autores que expressam um acúmulo coletivo de pesquisa e ativismo de educação popular e de pedagogia crítica e freiriana, em perspectiva internacional. Não estamos falando de uma “educação popular” obediente e assistencialista, adaptada à subjetividade da cultura neoliberal e à lógica da competição infernal das individualidades. Pelo contrário: caminhamos na contramão do pensamento dominante e encontramos na educação popular uma forma de reerguer vozes silenciadas, conquistar espaços de maneira radicalmente coletiva e movimentar as estruturas. Isso requer uma atitude ao mesmo tempo paciente e dinâmica, programática e esperançosa.
Este livro é uma importante contribuição para a produção de novos conhecimentos que estão transformando nossa compreensão do passado e do presente do Brasil. Como uma importante intervenção política dentro da academia, ele pode inspirar muitos outros trabalhos que podem nos contar ainda mais sobre a diversidade de experiências de pessoas LGBTQI+ em diversos momentos históricos e lugares do Brasil. Conhecimento é poder. Aprender e nos sentir conectados a uma infinidade de experiências que são semelhantes e diferentes das nossas pode nos ajudar a entender nosso lugar social. É uma conscientização que é também um instrumento de transformação social.
As acadêmicas feministas desenvolveram um esquema interpretativo que lança bastante luz sobre duas questões históricas muito importantes: como explicar a execução de centenas de milhares de 'bruxas' no começo da Era Moderna, e por que o surgimento do capitalismo coincide com essa guerra contra as mulheres. Segundo esse esquema, a caça às bruxas buscou destruir o controle que as mulheres haviam exercido sobre sua própria função reprodutiva, e preparou o terreno para o desenvolvimento de um regime patriarcal mais opressor. Essa interpretação também defende que a caça às bruxas tinha raízes nas transformações sociais que acompanharam o surgimento do capitalismo. No entanto, as circunstâncias históricas específicas em que a perseguição às bruxas se desenvolveu — e as razões pelas quais o surgimento do capitalismo exigiu um ataque genocida contra as mulheres — ainda não tinham sido investigadas. Essa é a tarefa que empreendo em Calibã e a bruxa, começando pela análise da caça às bruxas no contexto das crises demográfica e econômica europeias dos séculos XVI e XVII e das políticas de terra e trabalho da época mercantilista. Meu esforço aqui é apenas um esboço da pesquisa que seria necessária para esclarecer as conexões mencionadas e, especialmente, a relação entre a caça às bruxas e o desenvolvimento contemporâneo de uma nova divisão sexual do trabalho que confinou as mulheres ao trabalho reprodutivo. No entanto, convém demonstrar que a perseguição às bruxas — assim como o tráfico de escravos e os cercamentos — constituiu um aspecto central da acumulação e da formação do proletariado moderno, tanto na Europa como no Novo Mundo.
Os artigos deste livro documentam as intensas lutas travadas por pessoas em todo o mundo contra as múltiplas formas de desapropriação às quais estão sujeitas. Na literatura esquerdista, tais lutas são, com frequência, descartadas como puramente defensivas. Mas essa visão está profundamente equivocada. É impossível defender os direitos comunais sem criar uma nova realidade, isto é, novas estratégias, novas alianças e novas formas de organização social. Uma mina é aberta, ameaçando o ar que as pessoas respiram e a água que bebem; perfurações são feitas em águas costeiras para extrair petróleo, envenenando o mar, as praias e as terras agrícolas; um bairro antigo é devastado para abrir espaço a um estádio — imediatamente, um novo perímetro é estabelecido. De um ponto de vista feminista, uma das atrações exercidas pela ideia dos comuns é a possibilidade de superar o isolamento em que as atividades reprodutivas são realizadas e a separação entre as esferas privada e pública, que tanto têm contribuído para esconder e racionalizar a exploração das mulheres na família e no lar.
"Se não pudermos culturalmente aceitar o modo como o pensamento e a prática da supremacia branca elucidam aspectos de nossa vida, independentemente da cor da pele, nunca conseguiremos ir além da raça." Neste livro, lançado originalmente em 2013, apósum relevante marco histórico no debate racial - a eleição de Barack Obama como primeiro presidente negro dos Estados Unidos -, bell hooks consolida e aprimora um argumento que a acompanhou por décadas: a compreensão da supremacia branca enquanto "ideologia dissimulada que é a causa silenciosa do dano e do trauma". Nos dezessete ensaios deste volume, em que volta a exercer uma refinada crítica cultural, a autora se esforça para demonstrar que raça, gênero e classe "correm o risco de se tornar meros tópicos de investigação sem relação com o aprendizado transformador ou com a mudança prática". Para evitá-lo, explica hooks, a análise intersecional deve incorporar o entendimento da supremacia branca como característica transversal dos sistemasinterligados de dominação. "Estou tentando pensar e escrever além dos limites que nos mantêm hiper-racializados", diz. "Encontrar uma maneira de ir além da raça é o único caminho para a longevidade emocional e para a libertação."
Nós precisamos de Zami, das memórias que compõem este livro, pois são memórias e histórias que nos atravessam, ainda que não sejam contadas ou que sejam postas em silêncio por pudor, por vergonha imputada, em nome da ordem, porque insistem em dizer e tentar nos convencer de que aquilo que somos não é certo ou não importa. Zami guarda histórias pelas quais almejamos porque são nossas história
O que é o amor, afinal? Será esta uma pergunta tão subjetiva, tão opaca? Para bell hooks, quando pulverizamos seu significado, ficamos cada vez mais distantes de entendê-lo. Neste livro, primeiro volume de sua Trilogia do Amor, a autora procura elucidar o que é, de fato, o amor, seja nas relações familiares, românticas e de amizade ou na vivência religiosa. Na contramão do pensamento corrente, que tantas vezes entende o amor como sinal de fraqueza e irracionalidade, bell hooks defende que o amor é mais do que um sentimentos, é uma ação capaz de transformar o niilismo, a ganância e a obsessão pelo poder que dominam nossa cultura. É através da construção de uma ética amorosa que seremos capazes de edificar uma sociedade verdadeiramente igualitária, fundamentada na justiça e no compromisso com o bem-estar coletivo. Em uma sociedade que considera falar de amor algo naïf, a proposta apresentada por bell hooks ao escrever sobre o tema é corajosa e desafiadora. E o desafio é colocarmos o amor na centralidade da vida. Ao afirmar que começou a pensar e a escrever sobre o amor quando encontrou “cinismo em lugar de esperança nas vozes de jovens e velhos”, e que o cinismo é a maior barreira que pode existir diante do amor, porque ele intensifica nossas dúvidas e nos paralisa, bell hooks faz a defesa da prática transformadora do amor, que manda embora o medo e liberta nossa alma. Assim, ela nos convoca a regressar ao amor. Se o desamor é a ordem do dia no mundo contemporâneo, falar de amor pode ser revolucionário.
Raúl Zibechi é um dos mais importantes pesquisadores das lutas sociais na América Latina, e sua obra expressa uma tradição fundamental do pensamento radical da região, vivamente conectada e vinculada aos territórios e movimentos coletivos. Apesar de sua imensa relevância, apenas uma parte bastante diminuta de sua obra encontra-se publicada em português. A presente coletânea pretende contribuir para começar a sanar essa lacuna editorial no Brasil, mas também fazer reverberar um tipo de intervenção que retoma a hipótese autonomista das lutas, para seguir pensando e caminhando com aquelas e aqueles que resistem em um continente conflagrado pela guerra permanente contra os povos. Não é como intelectual ou ilustre teórico de vanguarda que este escritor, militante e jornalista uruguaio se mostra àqueles que se deparam com seus textos e intervenções. Zibechi nos surge, antes de tudo, por meio dos movimentos que acompanha, por sua cumplicidade junto aos que lutam e pensam com os pés na terra. Trata-se de uma postura que se reflete na forma de seus textos, marcados por uma linguagem direta e aberta, sem academicismos e comprometida com a circulação das questões conforme são formuladas nos contextos em que surgem.
A revolução digital está causando impactos tão profundos sobre a humanidade quanto em outra era causou a Revolução Industrial. O que chamamos de capitalismo tem as suas raízes na industrialização, que envolveu transformações nas técnicas e nas relações sociais de produção, com o trabalho assalariado e o lucro do capitalista, além de um marco jurídico centrado na propriedade privada dos meios de produção. Com a revolução digital ,que envolve uma expansão radical das tecnologias, bem como a generalização da economia imaterial, a conectividade global, o dinheiro virtual e o trabalho precário, a própria base da sociedade capitalista se desloca. Em particular, a apropriação do produto social por minorias ricas, porém improdutivas, já não exige geração de emprego e produção de bens e serviços na mesma escala; ela passa pela intermediação do dinheiro, do conhecimento, das comunicações e das informações privadas. Onde a fábrica imperava, hoje temos as plataformas em escala planetária, que exploram não só as pessoas — através do endividamento, por exemplo, mas também as próprias empresas produtivas, por meio dos dividendos pagos a acionistas ausentes (absentee owners). O presente estudo se concentra precisamente nas transformações ocorridas naquilo que chamamos de modo de produção capitalista. A atividade industrial permanece, sem dúvida, como permaneceu a atividade agrícola diante da Revolução Industrial; mas o eixo de dominação e controle já não está nas mãos dos capitães da indústria, e sim nas de gigantes financeiros como BlackRock, de plataformas de comunicação como Alphabet (Google), de ferramentas de manipulação como Meta (Facebook), de intermediários comerciais como Amazon.(...)
Nenhuma organização do século 21 acumula tanto poder de destruição quanto as corporações. São elas que estão no centro do novo livro de Nicholas Freudenberg, que se propõe a investigar as mais diferentes áreas para apontar como as grandes empresas se tornaram o maior problema de saúde pública dos nossos tempos. “As recentes mudanças no capitalismo precipitaram ou agravaram tanto os apocalipses de 2020 como os desastres mais lentos das últimas duas décadas”, diz o pesquisador da City University de Nova York. Em A que custo, Freudenberg propõe uma série de caminhos para repensar a nossa organização enquanto sociedade e para superarmos o
“Uma caixa de ferramentas para ser usada contra a ofensiva neoliberal e conservadora, mas também uma investigação tramada ao calor das assembleias, das mobilizações, das greves internacionais do 8 de março, que conecta as violências econômicas, financeiras, políticas, institucionais, coloniais e sociais.” Assim o jornal argentino Página 12 definiu o livro A potência feminista, ou o desejo de transformar tudo, de Verónica Gago. Um feminicídio é registrado a cada 29 horas na Argentina — um a cada oito horas, no Brasil. Verónica Gago assume a realidade e a luta das mulheres latino-americanas como ponto de partida para as análises de A potência feminista. Foi a violência estrutural e homicida contra as mulheres argentinas que desencadeou o movimento #NiUnaMenos, que logo se espalhou pelo continente. Cientista política, professora da Universidade de Buenos Aires e militante feminista, Verónica Gago engrossou o movimento, participou de assembleias, marchas e protestos, e, por dentro da mobilização, e em diálogo permanente com luta de mulheres de outros países, passou a enxergar a força contestatária do feminismo latino-americano para muito além do “identitarismo” e do “vitimismo”. Quando encarado em sua dimensão de raça, de classe, plurinacional, antiextrativista, e ao ganhar as massas, como tem ocorrido na Argentina com as manifestações pela descriminalização do aborto, o feminismo se torna revolucionário — e aponta inequivocamente para o desejo de transformar tudo. Essa é a tese defendida pela autora em A potência feminista. O livro dialoga com as ideias de Silvia Federici, Angela Davis, Nancy Frazer, Wendy Brown, Rosa Luxemburgo e Karl Marx, entre outras pensadoras e pensadores clássicos e contemporâneos. E defende a proposta da greve internacional feminista como instrumento revolucionário que visibiliza trabalhos e condições das mulheres invisibilizados historicamente pelo sistema. A realidade latino-americana obriga o feminismo a sair do binarismo vítima/algoz e a atravessar os conflitos enfiando transversalidade no “tremor simultâneo das camas, das casas e dos territórios”, explica Verónica Gago, sem deixar nada de fora, porque as lutas feministas atravessam tudo. É preciso reconceitualizar as violências machistas e politizá-las, para reconhecer seu horror e desarmá-lo.
Mirando as belas colinas do Kentucky, onde passou momentos felizes na infância, bell hooks constrói nos ensaios deste livro um itinerário da memória ao mesmo tempo que vislumbra um futuro de reconexão com a terra e com os valores transmitidos por seus ancestrais, articulando anseios pessoais a questões ambientais, de sustentabilidade e de justiça social. Naturalmente, seria impossível abordar tais temas sem considerar as políticas de raça, gênero e classe, além da violência psíquica e concreta da supremacia branca. A autora reivindica o legado dos agricultores negros do passado e do presente, que celebram a produção local de alimentos, e das artesãs de colchas de retalhos, como sua avó materna, que transmitem de geração a geração essa e outras práticas repletas de significado. Com coragem, perspicácia e honestidade, Pertencimento oferece a extraordinária visão de um mundo onde todas as pessoas — independentemente de qual lugar chamam de lar — possam ter uma vida plena e satisfatória, onde todos tenham a sensação de pertencer
Pandemia e agronegócio: doenças infecciosas, capitalismo e ciência, de Rob Wallace, defende que os novos vírus que há alguns anos amedrontam o planeta com epidemias e pandemias são, sim, uma criação dos seres humanos. Mas, não, não estamos falando das teorias conspiratórias difundidas pelos robôs de Donald Trump ou Jair Bolsonaro, que responsabilizam laboratórios chineses especializados em guerra biológica pela origem do novo coronavírus. Para o autor, esses micro-organismos são resultado da maneira como passamos a criar animais para consumo nos últimos quarenta anos. Quem já teve a oportunidade de ir a uma granja ou a uma fazenda de porcos sabe do que estamos falando: milhares (milhões) de animais confinados, muitas vezes impedidos de dormir e comendo 24 horas por dia para engordar — e ir para o abate — cada vez mais rápido. Para quê? Para aumentar os lucros das empresas, claro, que se transformaram em grandes conglomerados. O número de animais criados para alimentação cresce quase duas vezes mais rápido que a população humana. Aves, vacas, porcos separados pelo produto a ser extraído (carne, ovos, leite), em estabelecimentos onde compartilham raça, idade e sistema biológico. E isso, para a natureza, cuja lei mais importante é o equilíbrio na diversidade, significa uma praga gigante. Uma atração inevitável para outros animais, um banquete para micro-organismos. Um experimento permanente de mutações e contágios extremos. Rob Wallace vem escrevendo sobre isso há quase vinte anos. Lançado pela primeira vez em 2015, Pandemia e agronegócio, que agora chega ao Brasil graças à parceria da Elefante com Igra Kniga, reúne artigos do autor publicados desde 2007. Nos textos, o biólogo alerta sobre as origens da Sars, da gripe aviária e da gripe suína, alertando que, se os seres humanos não modificassem a maneira como criam animais para abate, teriam que lidar, no curto prazo, com novas formas de vírus cada vez mais mortais. E aqui estamos. “Os seres humanos construíram ambientes físicos e sociais, em terra e no mar, que alteraram radicalmente os caminhos pelos quais os patógenos evoluem e se dispersam. Os patógenos, no entanto, não são meros figurantes, golpeados pelas marés da história humana. Eles também agem por vontade própria, com o perdão do antropomorfismo. Demonstram agência”, escreve Rob Wallace na introdução de Pandemia e agronegócio. Além do conteúdo integral da versão estadunidense, a edição brasileira trará os textos mais recentes do autor e de seus colaboradores sobre o atual surto de covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2) que, depois de aparecer na província de Hubei, na China, se espalhou pelo planeta, colocou boa parte do mundo em quarentena e espalhou incertezas sobre a maneira como continuaremos vivendo e habitando a Terra. Os vírus surgidos em território chinês, aliás, recebem imensa atenção de Rob Wallace no livro. Mas, longe de engrossar o coro da xenofobia que costuma vigorar nesse tipo de discussões, o autor vai às raízes do problema. “Desde a década de 1970, a produção pecuária intensiva se espalhou pelo planeta a partir de suas origens nos Estados Unidos. Nosso mundo está cercado por cidades de monoprodução de milhões de porcos e aves apinhados lado a lado, em uma ecologia quase perfeita para a evolução de várias cepas virulentas de influenza.”
Por muitos anos na minha trajetória como escritora ouvi a seguinte frase: “Todas as histórias já foram contadas”. Assim, nos restaria apenas contar, mais uma vez, as mesmas histórias, no máximo a busca estética, a inovação formal. Até que um dia, não muito tempo atrás, iniciou-se o que podemos chamar de uma mudança de paradigma em nossa sociedade. Mudança impulsionada pelas lutas sociais e pelas transformações políticas do início dos anos 2000. E assim, de um momento ao outro, nos vimos diante do óbvio: não é verdade que todas as histórias já foram contadas; pelo contrário, se analisarmos com atenção perceberemos que na realidade apenas uma única história havia sido contada, a história daqueles que detém o poder. Uma história colonial que exclui a maioria. Porque, sim, as minorias nada mais são do que a imensa maioria deste país. Então, nesse contexto, Mulheres de terra e água tem muito a nos ensinar. Se tivermos a capacidade de ouvir. Não como quem ouve uma história distante, mas com a atenção de quem ouve um relato que é nosso porque é o relato do Brasil. Porque a vida dessas mulheres, suas dificuldades, lutas e esperanças têm seu aspecto pessoal, mas é também um ato político.
A defesa da floresta e a crítica a todos os projetos que resultam na sua destruição baseavam-se numa ideia que começou como um sentimento e uma intuição: a condição para o desenvolvimento da Amazônia e para a proteção de seus povos originários e tradicionais é que ela permaneça sendo Amazônia. Este livro organiza e sistematiza essa ideia, para que possamos estruturalmente resistir melhor agora e avançar mais rápido quando for possível.
Entre outras coisas, bell nos liberta para sabermos que temos o direito de ser amados e que essa é uma luta necessária. Ela também nos diz que devemos amar, mas amar com mais respeito, responsabilidade, compreensão, companheirismo e demonstração constante de afeto e coragem. E seguirmos em luta. Porque ainda precisamos refletir criticamente sobre o passado, nos defender para que nossos corpos não sejam tratados como um alvo para a morte, transgredir os limites estabelecidos pelo racismo, nos curar e criar conexões.
Este livro é resultado de um esforço para resgatar as ideias de Josué de Castro 75 anos depois da publicação de sua obra-prima, Geografia da fome, justamente num momento em que o país volta a enfrentar as formas mais graves da insegurança alimentar e nutricional. Em 26 artigos e uma linha do tempo, e em permanente diálogo com o intelectual pernambucano, Da fome à fome oferece um panorama multidisciplinar sobre esse flagelo na tentativa de responder a uma pergunta absurda: por que uma potência agropecuária mantém 33 milhões de pessoas sem comida na mesa enquanto exporta toneladas e mais toneladas de grãos e carnes todos os anos? Como se verá nestas páginas, a questão é essencialmente política. Por isso, Da fome à fome é leitura obrigatória para quem está estarrecido com a carestia brasileira do século xxi e deseja compreender o problema para além do discurso fácil e falacioso do agronegócio.
Enfrentar o medo de se manifestar e, com coragem, confrontar o poder, continua a ser uma agenda vital para todas as mulheres”, escreve bell hooks no prefácio à nova edição de Erguer a voz. Na infância, a autora foi ensinada que “responder”, “retrucar” significava atrever-se a discordar, ter opinião própria, falar de igual pra igual a uma figura de autoridade. Nesta coletânea de ensaios pessoais e teóricos, em que radicaliza criticamente a máxima de que “o pessoal é político”, bell hooks reflete sobre assuntos que marcam seu trabalho intelectual: racismo e feminismo, política e pedagogia, dominação e resistência. Em mais de vinte ensaios e uma entrevista, a autora mostra que transitar entre o silêncio e a fala é um gesto desafiador que cura, que possibilita uma nova vida e um novo crescimento ao oprimido, ao colonizado, ao explorado e a todos aqueles que permanecem e lutam lado a lado, rumo à libertação.
Reunindo a experiência de trinta anos como professora dentro e fora da sala de aula, além da própria vivência como estudante em meio ao contexto de segregação racial nos Estados Unidos, bell hooks discorre sobre os desafios que se impõem aos docentes efetivamente interessados em colaborar com a luta antirracista e com a quebra dos paradigmas da dominação. Com uma afetuosa combinação de teoria e prática, os dezesseis “ensinamentos” deste livro — último volume de sua Trilogia do Ensino a ser publicado no Brasil — abordam temas como espiritualidade, racismo, machismo, sexualidade, autoestima e superação do medo e da vergonha. O objetivo, aqui, é resgatar o espírito de comunidade, essencial para manter vivo, em estudantes e professores, o desejo de aprender. Descobrir o que nos conecta uns aos outros e fazer com que as diferenças sejam pontes, não barreiras, é a proposta de bell hooks para trilhar o caminho de uma educação libertadora.
O olhar que Mariléa de Almeida lança sobre as mulheres quilombolas, suas biografias e seus projetos serve para descrever como o afeto é um elemento constituinte de seus espaços de vida, seus projetos coletivos, suas lutas políticas. Mariléa nos faz compreender que, sem ter em conta as relações de afeto, perdemos uma parte fundamental da experiência que sustenta as relações territoriais. Mas também é possível reivindicar aqui as reflexões da antropóloga Jeanne Favret-Saada sobre “ser afetado”, para apreender como o trabalho de Mariléa, além de realizar uma história e um inventário das formas pelas quais o afeto produz espaços de vida nos quilombos, tem no próprio afeto um método, ou uma dimensão central da pesquisa. O modo como a autora se aproxima de suas interlocutoras, destacando as linhas que cruzam e aproximam suas experiências às delas, também acaba por constituir a própria pesquisa como um território de afetos. Narrando experiências de dezenas de mulheres quilombolas do estado do Rio de Janeiro, este livro é capaz de demonstrar, com sensibilidade, como a luta pode ganhar a forma do cuidado, como a resistência pode se manifestar na ternura, como o território é produzido, atualizado e mantido pela capacidade de criar espaços seguros, nos quais é possível uma reconciliação com as histórias, os corpos e os saberes violados. Pelos olhos, pelos ouvidos e pelas mãos de Mariléa de Almeida, o quilombo torna-se quilombola.
Em 2013, o governo federal lançou o Programa Mais Médicos, distribuindo profissionais de saúde pelo país. Com gosto pelos rincões, o escritor Antonio Lino pegou a estrada para conferir de perto os brasis, os brasileiros e as brasilidades encontrados pelos médicos — na maioria, estrangeiros — imbuídos da missão. Branco vivo é o resultado de seu olhar aguçado para nove localidades desse gigantesco território. Um olhar complementado pelas fotografias do renomado intérprete do Brasil, Araquém Alcântara. Uma ode à humanidade em tempos sombrios.
Antropoceno ou Capitaloceno? Muito mais que um dilema terminológico, a pergunta encerra perspectivas radicalmente opostas sobre a crise ecológica. Em sete ensaios, este livro demonstra que a ideia de Antropoceno, preferida do catastrofismo anódino dos meios de comunicação e da comunidade científica, não está isenta de politização. Ao considerar indistintamente a humanidade como responsável pelos impactos geológicos causados pelas atividades econômicas, os proponentes do Antropoceno pecam por uma enorme falta de consistência histórica.
Ao explorar as possibilidades e dificuldades do exercício do poliamor, este livro desenvolve uma crítica contundente ao sistema monogâmico — Ao explorar as possibilidades e dificuldades do exercício do poliamor, este livro desenvolve uma crítica contundente ao sistema monogâmico — “ferramenta de construção do sujeito ensimesmado, fechado em si mesmo” — e à sua prática impositiva e obrigatória, que inviabiliza o aparecimento de outras formas de existir e se relacionar. O desafio poliamoroso é também um vigoroso exercício de escrita, um laboratório para pensar mundos possíveis, alternativos ao atual — tão competitivo, tão desvelado por hierarquias e exclusividades.
À primeira vista, a ideia de direitos da Natureza pode causar algum estranhamento: talvez o mesmo estranhamento que um dia causaram as propostas de direitos civis, direitos humanos e direitos das crianças, por exemplo. Neste livro, o sociólogo uruguaio Eduardo Gudynas analisa os caminhos conceituais e as lutas sociais que vêm abrindo espaço para que comecemos a tratar a Natureza como sujeito de direitos, e não como mero objeto da exploração humana. O autor analisa os casos do Equador, que colocou os direitos da Natureza na Constituição aprovada em 2008, aproximando os termos Natureza e Pacha Mama, e da Bolívia, que aprovou leis de proteção da Mãe Terra.
O enfraquecimento da crítica sistêmica da esquerda é hoje uma das principais fragilidades da luta contra o avanço do conservadorismo, do autoritarismo, do racismo, da xenofobia, da intolerância e do neofascismo. Valorizar horizontes utópicos de outras formas sociais não é irrealismo ou expressão de impotência política: é resgatar bússolas indispensáveis para direcionar e estimular lutas antigas e novas. No Brasil de Bolsonaro, o debate sobre Bem Viver, decrescimento, comuns, ecofeminismo, direitos da Mãe Terra e desglobalização, proposto neste livro, oferece oxigênio para uma esquerda que precisa se revigorar, e, principalmente, se reinventar.
O mito de Erisícton nos fala de um rei que se devorou porque nada satisfaria sua fome, punição divina por ultrajar a natureza. A partir dessa metáfora potente, Anselm Jappe analisa o que chama de pulsão de morte do capitalismo: uma explosão de violência extrema gerada pela perda de sentido e pela negação dos limites, características de uma sociedade regida pela mercantilização. Para tanto, Jappe propõe retomar o diálogo com a tradição psicanalítica e desistir da ideia, forjada pela razão moderna, de que o sujeito é um indivíduo livre e autônomo; ao contrário, é fruto da internalização das restrições impostas pelo capitalismo e portador de uma combinação letal entre narcisismo e fetichismo da mercadoria. Neste contexto, desenredar os infinitos fios da meada que leva os indivíduos a colaborar em diversos graus com o sistema que os oprime seria a palavra de ordem para uma verdadeira mutação antropológica, capaz de reinventar a felicidade, livre das categorias capitalistas
Neste livro, Gyorgy Scrinis nos brinda com lentes que oferecem elementos interpretativos muito potentes para modificarmos profundamente a maneira como temos lidado com a temática da alimentação e nutrição. Esses elementos, abordados de forma criativa e inovadora, nos ajudam a responder perguntas fundamentais sobre a questão alimentar no contexto contemporâneo, entre elas: quais interesses públicos são comprometidos e quais interesses privados são beneficiados com este paradigma? Em que medida ele contribui para a manutenção de assimetrias de poder que impedem a garantia do Direito Humano à Alimentação Adequada para todos e todas e que dificultam processos emancipatórios da sociedade? Que aspectos da alimentação ficam desconsiderados, invisibilizados ou reduzidos nesta abordagem e quais as implicações disso na perspectiva das políticas públicas? Quais as implicações das abordagens presentes nesse paradigma para a relação das pessoas com a comida e com seu corpo?
O racismo nos Estados Unidos sempre foi o meio utilizado pelos homens brancos mais poderosos do país para justificarem seu governo, ganharem dinheiro e manterem o resto de nós à distância. Por essa razão, o racismo, o capitalismo e o domínio de classe sempre se entrelaçaram de tal maneira que é impossível imaginar um sem o outro." Eis uma das conclusões de #VidasNegrasImportam e libertação negra, de Keeanga-Yamahtta Taylor. "Não é preciso dizer que assassinato e brutalidade policiais são apenas a ponta do iceberg quando se trata do sistema de justiça criminal estadunidense", continua, trazendo mais uma dimensão à sua análise, aplicável também ao Brasil: "É impossível entender o intenso policiamento nas comunidades negras sem analisar as décadas de 'guerra às drogas' e o encarceramento em massa.
O agro, o que é? Neste livro essencial para a compreensão do Brasil contemporâneo, Caio Pompeia esquadrinha os meandros políticos do autoproclamado setor mais importante da economia nacional. Desde a origem do conceito de agribusiness na Universidade Harvard, na década de 1950 logo utilizado como frente de expansão imperialista pelos Estados Unidos , até os primeiros anos do governo Jair Bolsonaro, passando pelas disputas internas entre entidades que representam o agronegócio brasileiro dentro e fora das fazendas, o autor explica em detalhes, dando nome aos bois, como o agro adentrou o Estado e impôs sua agenda ao país, com sucessivos intentos de passar o trator sobre a reforma agrária, os direitos indígenas, a preservação do meio ambiente e a vontade das urnas.
Além de resgatar memórias de sua trajetória como estudante durante e após o regime de segregação racial nos Estados Unidos, com passagens por prestigiosas universidades que não costumavam ser frequentadas por pessoas negras, bell hooks resume neste livro muito do que aprendeu durante os trinta anos nos quais exerceu o ofício de professora. São 32 “ensinamentos” para serem aplicados dentro e fora da sala de aula: pequenos artigos sobre pedagogia engajada, descolonização, humor, lágrimas, autoestima, sexo, vida intelectual, espiritualidade e, claro, racismo e feminismo no ambiente de ensino. Assim como em outros livros em que discute o tema da educação, a autora dialoga criticamente com Paulo Freire para construir um panorama da prática da liberdade através da criação de comunidades de aprendizagem marcadas pelo diálogo e por uma relação de igualdade entre professores e estudantes. *** “A existência humana é, porque se fez perguntando, a raiz da transformação do mundo. Há uma radicalidade na existência, que é a radicalidade do ato de perguntar.” É com esta citação do educador brasileiro Paulo Freire que a educadora negra estadunidense bell hooks inicia o livro Ensinando pensamento crítico: sabedoria prática, que entra em pré-venda com frete grátis e desconto progressivo a partir de hoje no site da Editora Elefante. Ensinando pensamento crítico é uma continuação do aclamado Ensinando a transgredir, lançado no Brasil em 2017. Os livros fazem parte da Trilogia do Ensino escrita por bell hooks entre os anos anos 1990 e 2000. A coleção inclui ainda Ensinando comunidade: uma pedagogia da esperança, que a Elefante lança nos próximos meses, disponibilizando para o público brasileiro a sequência completa da obra pedagógica da autora.
A crise do novo coronavírus foi, em muitos aspectos, sem precedentes. Não apenas pela rapidez com que uma doença foi capaz de se alastrar em escala planetária anunciando um futuro temerário para a época dos fluxos globais, mas sobretudo por conta das reações que suscitou. Assistimos a um bloqueio geral da economia mundial e à imposição de medidas de confinamento populacional em quase todo o planeta. Temendo por sua sobrevivência, o capitalismo global colocou-se em quarentena. Mas os acontecimentos atuais só podem ser compreendidos se inserirmos a crise do vírus no panorama mais amplo do processo de crise fundamental do capitalismo, sistema que agora se confronta com seus limites históricos, tanto internos (a desvalorização do valor) quanto externos (a ameaça de colapso ambiental). A quarentena autoimposta do capitalismo foi, para este, um mal necessário para continuar existindo. Mas esse remédio amargo pode ter um perigoso efeito colateral, tendo aumentado exponencialmente a montanha de dívidas impagáveis que ameaça desabar a qualquer instante. A avalanche nos arrastará, em sua queda abrupta? Ou teremos aprendido algo com o breve pause do sujeito automático?
Este livro não é uma disputa ou um encontro: nestas páginas, Christian Laval, coautor do aclamado A nova razão do mundo, pretende desdobrar o movimento das pesquisas quase contemporâneas de Michel Foucault e Pierre Bourdieu sobre o que ambos identificaram como neoliberalismo, mostrando de que maneira esses pensadores franceses fizeram disso um objeto de reflexão em contextos e com ferramentas teóricas específicas, construindo duas confrontações que têm como característica comum uma explicação e uma resistência diante do surgimento histórico do acontecimento neoliberal. *** Em Foucault, Bourdieu e a questão neoliberal, Christian Laval detecta e ilumina os processos, os elementos e as dimensões que, ao se entrelaçarem, possibilitaram que esses dois autores, tão importantes para a reflexão sobre o social e o político, apreendessem precocemente a novidade e o ineditismo do que identificaram como neoliberalismo. O livro apresenta de modo claro as contribuições de dois pensadores que, por caminhos distintos, apontaram as reconfigurações e modulações das relações sociais, dos processos socioeconômicos, das mutações do poder, mas também dos modos de subjetivação e formas de comportamento, dimensões normativas e clivagens, práticas, enquadramentos, horizontes. Convergências e divergências entre as suas obras são também destacadas. Como elementos comuns, ganham relevância um processo de aceleração da construção política do Homo oeconomicus, ao lado da certeza de que a apreensão do presente não poderia ser reduzida à colonização mercantil da totalidade do espaço social. A guinada neoliberal e sua intensificação precisaram da alavanca política, de uma ação normativa e simbólica. Para Michel Foucault e Pierre Bourdieu, colocava-se a necessidade de uma profunda reelaboração da crítica da ordem. Além das divergências epistemológicas evidenciadas no livro, as prospecções que resultam da identificação dos múltiplos aspectos do neoliberalismo e as proposições práticas pensadas
Para bell hooks, a melhor crítica cultural não considera necessário separar a política do prazer da leitura. Anseios reúne alguns dos primeiros e clássicos textos de crítica cultural publicados pela autora nos anos 1980. Abordando temas como pedagogia, pós-modernismo e política, bell hooks examina uma série de artefatos culturais, dos filmes Faça a coisa certa, de Spike Lee, e Asas do desejo, de Wim Wenders, aos escritos de Zora Neale Hurston e Toni Morrison. O resultado é uma coleção comovente de ensaios que, como toda a obra da autora, dedica-se sobretudo à transformação de estruturas opressoras de dominação. *** Ainda que há anos eu já escrevesse textos de crítica cultural para revistas, Anseios foi a primeira compilação do meu trabalho em formato de livro. Fiquei entusiasmada ao reunir os diversos ensaios desta coleção, pois isso possibilitou que eu expressasse meus vários interesses teóricos. Ao escrever sobre cultura popular, pude mobilizar as interseções entre raça, classe e gênero. Além disso, eu tinha descoberto, em sala de aula e ao proferir palestras, que a utilização de textos visuais, filmes, obras de arte ou programas de televisão como base para falar sobre raça e gênero cativava o público. Todas as pessoas, independentemente de raça, classe ou gênero, pareciam ter ideias e modos de pensar as narrativas visuais que serviam como catalisadores de discussões aprofundadas. Focar a crítica em produções culturais abriu espaço para a educação voltada à consciência crítica, que poderia servir como uma pedagogia da libertação tanto na academia quanto na sociedade em geral. Ao contrário da teoria e da prática feministas — que, em última análise, exigiam comprometimento com a política feminista e uma ampla transformação na sociedade, percebida como perigosa e ameaçadora —, a crítica cultural permitia um discurso mais democrático. Embora grande parte dos textos de crítica cultural tenham sido escritos de uma perspectiva progressista ou radical, eles não t
Na coletânea de ensaios críticos reunidos em Olhares negros, bell hooks interroga narrativas e discute a respeito de formas alternativas de observar a negritude, a subjetividade das pessoas negras e a branquitude. Ela foca no espectador em especial, no modo como a experiência da negritude e das pessoas negras surge na literatura, na música, na televisão e, sobretudo, no cinema, e seu objetivo é criar uma intervenção radical na forma como nós falamos de raça e representação. Em suas palavras, os ensaios de Olhares negros se destinam a desafiar e inquietar, a subverter e serem disruptivos. Como podem atestar os estudantes, pesquisadores, ativistas, intelectuais e todos os outros leitores que se relacionaram com o livro desde sua primeira publicação, em 1992, é exatamente isso o que estes textos conseguem.